
Por Diego Pautasso, Gaio Doria e Tiago Soares Nogara
A ascensão chinesa, os dois centenários e a Nova Rota da Seda
Há de se compreender que a hoje evidente ascensão chinesa é resultante de um longo e complexo processo de reconstrução nacional iniciado com a Revolução de 1949, continuado e aprimorado por ao menos cinco gerações de assertivas lideranças políticas. Com a chegada do Partido Comunista da China (PCCh) ao poder, foi inaugurada, portanto, a etapa inicial dessa reconstrução nacional, conduzida por uma primeira geração de dirigentes liderada por Mao Tsé-Tung, e tendo como prioridades o restabelecimento da plena integridade territorial chinesa e o lançamento dos alicerces da indústria de base e da infraestrutura física (de transportes, energia e comunicação) do país.
Cumprida essa etapa, a segunda geração de líderes, conduzida por Deng Xiaoping, aderiu às políticas de Reforma e Abertura, ao final da década de 1970, garantindo o ingresso do país num acelerado processo de desenvolvimento, ensejado a partir da constante internalização de tecnologias forâneas e operando importante inflexão nas orientações da inserção internacional chinesa. Ainda que diante de dificuldades oriundas de um contexto de adaptação às condições impostas pelo colapso do campo soviético e da bipolaridade, a terceira geração, coordenada por Jiang Zemin (1993-2003), manteve-se firme na condução e aprofundamento das políticas de abertura econômica iniciadas por Deng, sem ceder às pressões por semelhantes reformas na estrutura institucional da nação.
Com o alvorecer do século XXI, a quarta e a quinta geração – respectivamente lideradas por Hu Jintao (2003-2013) e Xi Jinping (2013-….) – avançaram em torno de agendas qualitativamente distintas, na medida em que o fortalecimento político e econômico da China lhe garantiu maior proeminência no âmbito internacional, com plena inserção nas organizações multilaterais globais. Assim, contrastando o baixo perfil da política externa adotado desde as gestões de Deng Xiaoping, a diplomacia chinesa renovou seu ativismo, mantendo as linhas de assertividade e esboçando avançar em questões controversas tidas como cruciais para os interesses do país (ZHAO, 2013). Nesse processo, a busca da consolidação da China como potência mundial responde à sua intermitente ação em prol da implementação de robustos processos de integração regional, direcionados tanto para o Pacífico, com a ASEAN +3 e a ASEAN +6, quanto para a região euroasiática, através da Organização para Cooperação de Xangai (OCX) e, essencialmente, da Nova Rota da Seda. A conformação desses processos de integração, bem como a centralidade chinesa nos fluxos de riqueza, representa a recriação do sistema sinocêntrico.1
Em 2012, no 18º Congresso do PCCh foi lançada a ideia dos Dois Centenários, definindo um conjunto de metas para o país. A celebração do primeiro centenário refere-se à fundação do PCCh, completando 100 anos em 2021, e objetiva reconhecer a já alcançada condição de uma sociedade moderadamente próspera; o segundo, referente aos 100 anos de fundação da República Popular, em 2049, almeja a pleno alçamento da nação à condição de um país socialista civilizado, moderno, democrático e harmonioso. No ano seguinte, em 2013, Xi Jinping apresentou pela primeira vez a Nova Rota da Seda, e em 2017 foi realizado o seu primeiro Fórum bianual. Enfatizando continuidade com rotas comerciais que há séculos interconectam distintos continentes, o projeto se subdivide em sua dimensão do Cinturão Econômico, ligando China, Ásia Central, Rússia e Europa; e a Rota Marítima, delimitada por um lado desde a costa oriental chinesa até a longínqua Europa, passando pelo Mar do Sul da China, Oceano Índico e Mediterrâneo, via Canal de Suez.
Essa integração eurasiática consubstanciada pela implementação da Nova Rota da Seda representa, portanto, a etapa regional do projeto chinês de globalização, ao recriar o sistema sinocêntrico. Assim, cumpre, a um só tempo, auxiliar a concretização de diversos objetivos cruciais para a estratégia de inserção global chinesa. Primeiramente, ao criar demanda para a supercapacidade ociosa de sua indústria nacional. Num segundo aspecto, ao interagir com questões vinculadas à segurança alimentar, energética e no acesso ao conjunto de recursos naturais necessários à manutenção do projeto de desenvolvimento chinês, tendo em vista que cria alternativas ao chamado Dilema de Malaca e eventual estrangulamento das vias de suprimento ao país. Também de enorme relevância, contribui para potencializar a internacionalização de empresas e exportação de serviços nacionais, principalmente de engenharia, enquanto fortalece a presença do país nas redes comerciais regional, ampliando o papel gravitacional da China. Por fim, auxilia a estabilização política do entorno imediato do território nacional e fomenta maior curso de conversibilidade ao renminbi (RMB).
Os desafios e as dimensões da Nova Rota da Seda

Ao impulsionar um virtuoso processo de desenvolvimento e integração sob liderança da China, a Nova Rota da Seda tende a enfrentar desafios múltiplos na Eurásia. Nesta seção vamos abordar 1) os desafios securitários ligados à projeção dos EUA na região; 2) os tensionamentos relacionados com a conformação do assim chamado colar de pérolas e 3) as disputas ligadas à extensão da Nova Rota da Seda para a África.
Os desafios securitários da Nova Rota da Seda2 são complexos e diversos. Primeiramente, são compostos pelos focos de desestabilização e fragmentações territoriais em países da região. Desses, destacam-se os movimentos separatistas e terroristas que afetam a própria China, em Xinjiang, e a Rússia, na Chechênia; regiões de irradiação do crime organizado transnacional vinculado ao tráfico de drogas e armas no Afeganistão, Paquistão e países da Ásia Central; zonas de diversos litígios territoriais, tangenciando questões como a demarcação de fronteiras na Ásia Central e a disputa por enclaves territoriais – como o de Vorukh, enclave tadjique no Quirguistão, o de Barak, enclave quirguiz no Uzbequistão, e os enclaves uzbeques de Sokh e Shakhimardan no Quirguistão.
Além de insuflar os movimentos separatistas supracitados, os EUA executam uma complexa política de contenção da China e, com efeito, do processo de integração eurasiático sob liderança de Beijing. Ressalte-se os movimentos de Washington de apoio recorrentes ao conjunto das forças políticas independentistas e às vendas de armas para Taiwan; o fomento, a partir de seus aliados, dos litígios no Mar do Sul da China,3 sobretudo nas ilhas Spratly; a solidariedade ao Japão nas disputas pelas ilhas Senkaku/Diaoyu; e o apoio externo aos movimentos separatistas do Tibet e de Xinjiang. Este último caso, se entrelaça com as ações da Casa Branca voltadas a denunciar a China por abusos de direitos humanos em diversos âmbitos político-diplomáticos. A presença estadunidense na Bacia do Pacífico se completa com a forte presença militar em países como a Coreia do Sul, o Japão, a Tailândia, a Malásia e as Filipinas, além do controle de bases militares em Guam e no Havaí, também recrudescida com o anúncio da construção de escudo antimísseis THAAD na Península Coreana – percebida por Beijing como ameaça à sua capacidade militar dissuasória.
É nítido que os EUA mobilizam diversos meios nessa contenção, entrelaçando intervenções “humanitárias”, imposição de “democracia de mercado”, isolamento de “Estados párias”,4 expansionismo baseado na guerra ao terror, drogas e/ou corrupção, ataques preventivos, guerras por procuração, sistemas globais de espionagem etc. (JOHNSON, 2007, p. 31). Como disse Engdhal (2009, p. 127), o império de bases militares é a base do Império e sua política de full spectrum dominance: composto por gigantes estruturas militares, como a OTAN, os Comandos do Pacífico (PACOM), Comando Europeu (EUCOM) e o Comando Central (CENTCOM), além de um conjunto de aliados estratégicos, com centenas de bases militares, sobretudo na Eurásia, na Coreia do Sul, no Japão, em Guam, Tailândia, e outros.
Outra questão complexa que perpassa a Nova Rota da Seda refere-se às relações sino-indianas. Ao estabelecer a dimensão marítima da Nova Rota da Seda, a China enseja a construção e modernização dos portos de Colombo e Hambantota, no Sri Lanka; Gwadar, no Paquistão; Chittagong, no Bangladesh; Ilha Meday, em Mianmar; e Port Victoria, nas Seychelles. Essa infraestrutura foi intitulada de colar de pérolas e é percebida pela Índia como um desafio à sua hegemonia regional. O colar de pérolas chinês concorre, portanto, com as já estabelecidas presença dos EUA e da Índia na região.
Os EUA projetam sua presença desde o Japão, passando por Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas, Guam, Tailândia, Kuwait. Os EUA seguem como garantidores dos esquemas de segurança regional, ancorado em alianças militares que se estendem desde o Golfo Pérsico até o Sudeste Asiático, como fica claro no Quadrilateral Security Dialogue, diálogo estratégico informal entre os EUA, Japão, Austrália e Índia, iniciado em 2007. Da mesma forma, a Índia tem buscado fortalecer sua presença regional com iniciativas como a criação, em 2014, do grupo IO-5 – envolvendo Maldivas, Ilhas Maurício, Seychelles e Sri Lanka – e novas parcerias bilaterais no Leste Africano, casos de Moçambique e Madagascar, no Golfo Pérsico, casos de Omã e Qatar, e no Sudeste Asiático, junto de Indonésia, Singapura e Vietnã, e o estabelecimento de acordos logísticos com os EUA e a França. Destaca-se ainda a criação, em 2012, do Indian Ocean Naval Symposium (IONS), com a presença das marinhas de 24 países e 8 observadores externos, incluindo a Ilha Diego Garcia, até Etiópia e posições-chave no Golfo Pérsico (Catar, Bahrein e Kuina; a Indian Ocean Rim Association (IORA), com 21 membros e dez parceiros de diálogo, incluindo EUA, China, Japão e Coreia do Sul; e o renascimento da Iniciativa da Baía de Bengala (BIMSTEC), criada em 1997, com quase todos os países do Sul da Ásia, exceto o Paquistão, somando ainda Mianmar e Tailândia (XAVIER, 2018).
Por um lado, as interações da Índia com os chineses expressam cooperação, em dimensões como o compartilhamento de participação na OCX, no AIIB (com o segundo maior aporte) e, ainda que com desinteresse, no corredor BCIM (Bangladesh-China-Índia-Mianmar) da Nova Rota da Seda. Por outro lado, a Índia desenvolve suas próprias iniciativas, além exibir notável desconforto com um dos eixos da Nova Rota da Seda: o Corredor Econômico China-Paquistão. Proposto em abril de 2015, o CECP já conta com a assinatura de 51 acordos e memorandos de entendimento, distribuídos ao longo de duas rotas: a rota ocidental, passando por Zhob, Quetta e Kalat, voltada às províncias menos privilegiadas de Khyber, Pakhtunkhwa e Baluchistão; e a rota oriental, via Multan, Faisalabad, Pindi Bhattian e Rawalpindi. Juntas, totalizam cerca de 3.000 km de extensão, desaguando no Porto de Gwadar, localizado em posição estratégica, próximo ao Estreito de Ormuz. Ou seja, o sucesso da Nova Rota da Seda passa, inexoravelmente, pelas relações com um importante vizinho como a Índia e suas consequentes aproximações diplomáticas.
Outra dimensão e desafio crucial da BRI, diz respeito a sua extensão até o continente africano.5 Além de ser a principal parceira comercial de praticamente todos os países africanos, a China criou o FOCAC, formalmente estabelecido em 2000, com encontros trianuais e Planos de Ação robustos. A institucionalização das relações da China com a África impulsiona diversas outras iniciativas. Primeiro, amplia a ajuda internacional da China para a África, com capacitação de profissionais, cooperação técnica, ajuda humanitária etc. Segundo, contribui para o desenvolvimento infraestrutural do continente, com a construção de prédios públicos, usinas de produção de energia, estradas, escolas e centros de desenvolvimento agrícola, hospitais, entre outros. Terceiro, os investimentos externos diretos da China têm impulsionado Zonas Econômicas Especiais e Zonas de Livre Comércio em diversos países africanos, compensando a perda de empregos decorrente das exportações chinesas.
Ademais, a África representa elemento central da consolidação de um colar de pérolas ampliado, pois conecta os portos chineses ao oriente africano, sobretudo aos portos do Djibouti, Quênia e no Sudão, se conectando ao Chifre da África. Assim, o colar de pérolas ampliado aparece enquanto mecanismo capaz de aumentar a presença chinesa em importantes checkpoints, como o Canal de Suez, o estreito Bab el-Mandeb, o estreito de Ormuz e o estreito de Malaca. O Djibouti está estrategicamente localizado no cruzamento entre o Mar Vermelho e o Golfo de Áden, onde a China abriga sua primeira base naval ultramarina e os EUA já têm o Comando Africano do Pentágono (AFRICOM), utilizado para operações com drones da CIA (Agência Central de Inteligência). Por fim, no Quênia, o governo da China firmou acordo para a construção do Porto de Lamu, visando integrar sua infraestrutura com o Sudão do Sul e com a Etiópia através de outras obras envolvendo rodovias, ferrovias, aeroportos, refinarias de petróleo e cabos de fibra ótica.
O projeto de globalização chinês e a atual encruzilhada sistêmica
Os EUA exercem papel de proa nas atuais estruturas hegemônicas de poder, configuradas a partir da Segunda Guerra Mundial. O fim da Guerra Fria produziu a ilusão de um mundo unipolar sob controle ainda mais estrito de Washington. Contudo, a projeção de influência estadunidense também revelou suas contradições, ao coincidir com a emergência de novas configurações de poder, cujo epicentro reside na China. São os dois polos que impulsionaram o atual ciclo de globalização, com uma gigantesca corrente financeira e comercial, mas que também representam os vetores de um mundo em transição.
A China vem experimentando um acelerado take off industrial e deslocando a liderança das antigas potências, sobretudo dos EUA. Ou seja, o país asiático está adentrando aceleradamente na 3ª Revolução Industrial e na assim chamada Indústria 4.0. É nesse contexto em que se insere, por exemplo, a política Made in China 2025 (MIC 2025).6 O MIC 2025, inspirado no plano Indústria 4.0 da Alemanha, foi aprovado pelo Conselho de Estado da China em 2015, enfatizando estratégias para o desenvolvimento de manufatura inteligente. Trata-se, no entanto, do aperfeiçoamento do estudo “China’s drive for ‘indigenous innovation’”, de 2010, que aludia à centralidade do regime regulatório chinês para a promoção de inovações tecnológicas nacional, reduzindo a dependência do país frente ao estrangeiro. Dessa forma, o projeto arquiteta alçar a China à liderança das globais de produção e inovação, conferindo maior eficiência e qualidade aos produtos nacionais. O plano foi elaborado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, com a contribuição de 150 especialistas da Academia de Engenharia da China.
De forma a atingir os ambiciosos objetivos, o plano se expande para além das questões de inovação, tangenciando o conjunto da cadeia produtiva e prestação de serviços do país. Nesse sentido, a principal meta do planejamento consiste em aumentar o conteúdo nacional de componentes e materiais dessas correntes para até 70%, em 2025, por meio do aprofundamento da adoção de mecanismos de transferência de tecnologias e de requisitos de licenciamento, de aquisição de empresas estrangeiras estratégicas e de diversas atividades de engenharia reversa. O Made in China 2025 é, definitivamente, um ambicioso plano para afirmar a liderança industrial e tecnológica da China, em compasso com um robusto processo de substituição de importações. Trata-se de uma escalada produtiva que tende a potencializar a competição inter-estatal e inter-empresarial, típicas dos contextos de reorganização do poder mundial.
É nesse contexto em que se insere o recrudescimento das escaramuças geopolíticas e comerciais com os EUA, sobretudo a Guerra Comercial. O litígio tarifário é, contudo, sua dimensão superficial, pois representa um aumento do protecionismo estadunidense voltado à base eleitoral de Trump, com consequente utilização de barganha face à China visando diminuir os déficits comerciais. No fundo, o que está por detrás dessas batalhas tarifárias são a disputa pela liderança de importantes segmentos tecnológico-produtivos, como os padrões 5G, e, conforme argumentamos, os desfechos da encruzilhada sistêmica.
Tal encruzilhada representa um grande processo de transição de poder na ordem mundial, cujas origens remontam aos acontecimentos da década de 1970. No período subsequente, foi impulsionado uma profunda reorganização geoeconômica e geopolítica, marcada pelo predomínio da reação neoconservadora e neoliberal, a emergência de novos paradigmas produtivos, a ainda maior projeção de poder dos EUA e, com a virada do século, com uma crescente tendência multipolarização das relações internacionais. A intensificação da competição interempresarial e interestatal tem produzido fissuras sistêmicas, combinadas com recorrentes crises financeiras desde os anos 1990, escaladas intervencionistas e progressivo enfraquecimento da capacidade de Washington em manter hegemonia absoluta sobre os rumos dos atuais sistemas de governança multilaterais.
Considerações finais
Essa visão panorâmica representa um esforço de sistematização de um conjunto de pesquisas e, ao mesmo tempo, uma provocação e um convite para ler os materiais na íntegra. Enfim, o fato é que não é possível compreender a atual conjuntura internacional sem atentar para a natureza da ascensão da China e de seu projeto de globalização, centrado na integração euroasiática. Se por um lado fica claro o processo de mudança do eixo geoeconômico e geopolítico mundial, que se desloca do Atlântico Norte para a Bacia do Pacífico, por outro, os custos, violência e tempo para a consolidação dessas novas configurações de poder ainda reservam muitas incertezas.
Enquanto isso, o Brasil cambaleia em seu projeto de desenvolvimento nacional e de inserção internacional. Em outras palavras, as cisões entre suas elites e a turbidez de suas escolhas prendem o país ao passado, deixando de esboçar uma plena compreensão das modificações globais em curso e de traçar uma estratégia capaz de coadunar com sua condição e potencial de país emergente. Urge, pois, redefinir as diretrizes das estratégias nacionais em consonância com os parâmetros dessa complexa transição corrente na ordem internacional.
Publicado em Insight Inteligência, setembro de 2020.
Diego Pautasso é doutor em Ciência Política pela UFRGS. Autor do livro China e Rússia no Pós-Guerra Fria, Ed. Juruá 2011.
Gaio Doria é doutor em Direito pela Universidade do Povo da China.
Tiago Soares Nogara é Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI), da Universidade de Brasília (UnB).
BIBLIOGRAFIA
ENGDHAL, Frederick. Full spectrum dominance. Boxboro: Progressive Press, 2009.
JOHNSON, Chalmers. As aflições do Império. Rio de Janeiro: Record, 2007.
PAUTASSO, Diego. “A Nova Rota da Seda e seus desafios securitários: os Estados Unidos e a contenção do eixo Sino-Russo”. Estudos Internacionais, v.7, p.85-100, 2019.
_________________ “Desenvolvimento e poder global da China: a política Made in China 2025”. Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations, v. 18, p. 183-198, 2019.
_________________ “O papel da África na Nova Rota da Seda Marítima”. Brazilian Journal of African Studies, v.1, p.124-136, 2016.
PAUTASSO, Diego; DORIA, Gaio. A China e as disputas no Mar do Sul: entrelaçamento entre as dimensões regional e global. Revista de Estudos Internacionais (REI), v. 8, n. 2, 2017.
PAUTASSO, Diego; NOGARA, Tiago Soares; COLÓRIO, Augusto; WOBETO, Victor Leão. “O cerco multidimensional à Teerã e as relações sino-iranianas”. Tensões Mundiais, v. 15, p. 165-182, 2019.
PAUTASSO, Diego; UNGARETTI, Carlos. “A Nova Rota da Seda e a recriação do sistema sinocêntrico”. Estudos Internacionais, v. 4, p. 25-44, 2017.
XAVIER, Constantino. Bridging the Bay of Bengal: toward a stronger BIMSTEC. Nova Delhi: Carnegie Endowment for International Peace, 2018.
ZHAO, Suisheng. “Chinese foreign policy as a rising power to find its rightful place”. Perceptions, v. 18, n. 1, p. 101-128, 2013.
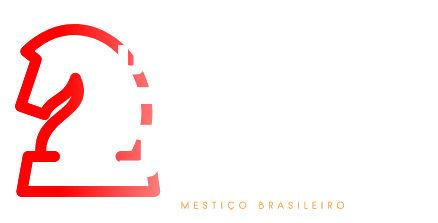







Excelente matéria!