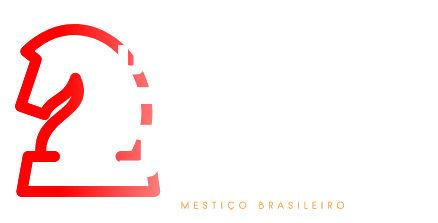BIE - Banco de Imagens Externas. Lixão da Estrutural. Os municípios poderão ter mais dois anos e contar com recursos federais para se adaptarem à Política Nacional de Resíduos Sólidos, a lei que, entre outras mudanças, prevê o fim dos lixões. A decisão foi anunciada pelo senador Romero Jucá (PMDB-RR) durante o debate da MP 651/2014. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Por Aris Roussinos.
Na semana passada, em uma tentativa de explicar os problemas da cadeia de abastecimento que estão cada vez mais levando à escassez de mercadorias na América, o Presidente Biden citou uma popular fábula neoliberal. Ele observou que para fazer um lápis, madeira e grafite devem ser provenientes de outras partes do mundo antes que o produto final possa acabar em mãos americanas. “Parece bobagem, mas é exatamente assim que acontece”, ponderou Biden, “essa é a natureza da economia moderna”. Mas o resultado, acrescentou ele, é que “quando as rupturas globais acontecem… isso pode atingir as cadeias de suprimentos de forma particularmente dura”.
Para ideólogos neoliberais como Milton Friedman, que usou a fábula do lápis para argumentar a favor de cadeias de abastecimento opacas no mundo, a beleza de sistemas tão complexos não é apenas que o consumidor obtém seu produto ao menor preço possível, e que o produtor pode maximizar seus lucros, “mas ainda mais para fomentar a harmonia e a paz entre os povos do mundo”. Como o historiador Quinn Slobodian observou em “Globalistas”, seu recente estudo dos primeiros teóricos liberais, tais motivações idealistas foram evidentes desde o início. Ignorando o fato de que o mundo globalizado do final do século XIX não conseguiu evitar a Primeira Guerra Mundial, eles acreditavam que a criação de um gigantesco mercado interligado tornaria impossível a repetição de tal cataclismo.
Eles estavam errados. Em vez disso, a reestruturação da economia global em uma grande rede aumenta enormemente o risco de um colapso total do sistema. Em vez de uma economia falhar, um choque em um canto do mundo pode colocar grande e repentina tensão nos sistemas econômicos e políticos a milhares de quilômetros de distância. Uma guerra na distante Taiwan pode significar que você não pode mais comprar um carro novo; uma seca no outro extremo do mundo significa prateleiras vazias em casa.
Como os arqueólogos e historiadores começaram a enfatizar cada vez mais, nosso mundo globalizado viu dois antecedentes no passado: nos sistemas comerciais interconectados e hiper-especializados da Idade do Bronze, e os do Império Romano em seu apogeu. Quando os dois se curvaram sob uma onda de choques inesperados, o resultado não foi um declínio ou uma recessão, mas um colapso total, um processo definido pelo grande teórico Joseph Tainter como “fundamentalmente uma súbita e pronunciada perda de um nível estabelecido de complexidade sociopolítica”.
Esta é, como observa Tainter, “uma sociedade subitamente menor, mais simples, menos estratificada e menos diferenciada socialmente”, onde “o fluxo de informações cai, as pessoas negociam e interagem menos” e “a especialização diminui e há menos controle centralizado”. Esta não é uma fábula moral spengleriana de declínio social, mas um processo inexorável pelo qual a crescente complexidade e sofisticação trazem consigo uma crescente fragilidade: quando uma combinação de choques chega, toda a sociedade é subitamente forçada a se reorganizar. Não é um evento de extinção ou o fim do mundo: a vida continua, apenas de uma forma mais pobre e simples.
As grandes civilizações comerciais do Mediterrâneo da Idade do Bronze apresentam exatamente esse exemplo. Como observa o arqueólogo Eric H. Cline em seu livro recentemente reeditado “1177 B.C.”, por mais de dois mil anos as grandes civilizações do Egito, Ásia Ocidental e Egeu formaram um único sistema comercial interconectado, dependente de complexas redes comerciais que “estavam abertas à instabilidade no minuto em que houve uma mudança em uma das partes integrantes”.
Quando a crise ocorreu, pouco depois de 1200 a.C., ela derrubou simultaneamente todas as civilizações do Mediterrâneo da Idade do Bronze. Como observa Cline, “talvez os habitantes pudessem ter sobrevivido a um desastre, como um terremoto ou uma seca, mas não puderam sobreviver aos efeitos combinados de terremoto, seca e invasores, todos ocorrendo em rápida sucessão”. Seguiu-se um “efeito dominó”, no qual, graças à natureza globalizada de seu mundo, “a desintegração de uma civilização levou à queda das outras”.
O colapso da civilização romana, um produto de um império exageradamente extenso e insuficientemente financiado, enfraquecido por rixas internas entre suas elites políticas, apresenta outro exemplo pertinente. Como o arqueólogo Bryan Ward-Perkins enfatizou em seu livro “A Queda de Roma e o Fim da Civilização”, o aspecto mais notável da civilização romana, arqueologicamente falando, foi a capacidade até mesmo dos membros mais pobres da sociedade de pagar bens de consumo baratos e de alta qualidade, possibilitada por uma imensa especialização na produção e uma rede comercial interligada que abrangia todo o império.
No entanto, após o colapso de Roma, tais bens só estavam disponíveis para os membros mais ricos da sociedade. Na produção de cerâmica, no uso da cunhagem e na construção de edifícios de pedra, a metade ocidental do império subitamente afundou de volta a um nível de complexidade social mais baixo do que na pré-história da Idade do Ferro, não retornando a um nível de sofisticação romana até o final da Idade Média. E de fato, como adverte Ward-Perkins, a complexidade da economia romana foi a razão precisa pela qual seu colapso foi tão total: “a complexidade econômica tornou disponíveis bens produzidos em massa, mas também tornou as pessoas dependentes de especialistas ou semi-especialistas – às vezes trabalhando a centenas de quilômetros de distância – para muitas de suas necessidades materiais”. Embora isso funcionasse bem em tempos de estabilidade, precipitou o colapso quando as rotas comerciais foram interrompidas.
Como Friedman, ou Biden, Ward-Perkins observa que hoje “somos totalmente dependentes para nossas necessidades de milhares, ou mesmo centenas de milhares, de outras pessoas espalhadas pelo mundo, cada uma fazendo sua pequena coisa”. No entanto, ele tira uma conclusão muito diferente sobre a conveniência desta situação, observando que agora “seríamos completamente incapazes de atender nossas necessidades localmente, mesmo em uma emergência”.
No entanto, é claro, mesmo quando estavam vivendo seus estágios iniciais, os romanos não sabiam que sua sociedade estava em colapso. Sim, os bens eram mais difíceis de serem encontrados, a infraestrutura estava cada vez mais degradada, a vida urbana estava cada vez mais instável, o crescimento econômico era apenas uma memória, e novas religiões floresciam à medida que as pessoas tentavam dar sentido a suas perspectivas de declínio. Mas mesmo assim, as derrotas militares nas franjas orientais do império quase não afetaram a vida no centro imperial. Para algumas pessoas, ainda era possível obter grandes lucros: para a maioria, as coisas continuavam como antes, embora com um padrão de vida mais baixo a cada ano que passava. Sem dúvida, as coisas vão melhorar em breve, diziam os romanos a si mesmos: este é apenas um lapso temporário.
O teórico do colapso John Michael Greer data o início do colapso de nossa própria sociedade na crise econômica de meados dos anos 1970, que impulsionou a desindustrialização tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha e iniciou a erosão da capacidade do Estado em busca de lucros cada vez mais difíceis de acumular, acumulados pelos oligarcas mesmo quando destruía a base tributária. Este é o processo do que Greer chama de “colapso catabólico” – “a sequência de declínio em degraus”, onde décadas de crise são seguidas por décadas de aparente melhoria, embora a sociedade subjacente seja deixada mais fraca e menos resistente antes que a próxima crise chega: “enxágue e repita, e você tem o processo que transformou o Fórum da Roma imperial em um primitivo pasto de ovelhas medieval”.
Esta visão sombria coaduna-se bem com a análise do teórico marxista Wolfgang Streeck de 2016 de que a crise do capitalismo pós-1970, acelerada pelo crash financeiro de 2008, nos levou a um período de entropia e decadência civilizacional. Para ele, experimentamos “a vida na sombra da incerteza, sempre correndo o risco de sermos perturbados por eventos surpresa e distúrbios imprevisíveis e dependentes da desenvoltura, da improvisação hábil e da boa sorte dos indivíduos”. É um período em que o Estado não pode mais garantir a ordem ou segurança de seus cidadãos, onde “mudanças profundas ocorrerão” de forma imprevisível, e onde cada último esforço para espremer o lucro de um sistema em colapso mina ainda mais a estrutura social.
Para Streeck, este interregno é uma época em que a riqueza pessoal diminui e a insegurança financeira se torna a norma. De fato, como Streeck observa, é um período onde “à medida que o crescimento diminui e os riscos aumentam, a luta pela sobrevivência se tornará mais intensa”. Ele oferece “ricas oportunidades aos oligarcas e senhores da guerra, enquanto impõe incerteza e insegurança a todos os outros, de certa forma como o longo interregno que começou no século V da Era Cristã e agora é chamado de Idade das Trevas”. Não é uma visão do inferno, ou do tipo de apocalipse fantasiado por Hollywood, mas simplesmente de uma versão degradada do presente: um mundo mais próximo do Sul Global moderno do que o nosso passado recente. Não é necessariamente um cataclismo repentino, mas um processo que levará décadas, talvez até séculos, para se revelar plenamente.
Nem Roma nem as civilizações do Mediterrâneo da Idade do Bronze foram derrubadas por uma única causa. Foi necessária a combinação de mudanças climáticas, rivalidade de elite, desastre militar e pressões migratórias, aliada à extrema fragilidade engendrada pela especialização econômica e por redes comerciais internacionais fortemente unidas, para garantir que quando o colapso ocorresse, ele fosse total. Como alerta Ward-Perkins, o sistema de cadeias de abastecimento complexas de Roma “funcionou muito bem em tempos estáveis, mas tornou os consumidores extremamente vulneráveis se por qualquer razão as redes de produção e distribuição fossem interrompidas”.
Os esforços tardios dos governos em todo o mundo para assegurar cadeias de abastecimento frágeis e aumentar a segurança alimentar são a refutação, em ação, da fábula do lápis. Como Tainter observa, “toda a preocupação com o colapso e a autossuficiência pode, por si só, ser um indicador social significativo” de declínio. Um esforço concentrado na resiliência doméstica é, afinal, em si mesmo, evidência de uma complexidade civilizacional reduzida: à medida que as rotas de comércio murcham e o consumo começa a cair, devemos nos esforçar para garantir que estamos nos encaminhando para uma descida controlada e não para uma queda súbita e cataclísmica. O centro imperial pode não se manter, mas nossas vidas devem continuar.
Publicado em UnHerd em 18.11.2021.
Tradução JORNAL PURO SANGUE.